|
José Murilo de Carvalho e Kenneth Maxwell defendem que a vinda da família real foi o marco zero da existência política do Brasil; já para Evaldo Cabral de Mello, "herdamos desse período o pior" que havia...
"O Brasil não existiria", afirma Carvalho
Syvia Colombo
 Autor de uma biografia do imperador dom Pedro 2º ("Dom Pedro 2º -Ser ou Não Ser", Cia. das Letras) que passou meses nas listas de livros mais vendidos, o historiador mineiro José Murilo de Carvalho acredita que a unidade territorial é uma das questões mais importantes a serem debatidas na efeméride dos 200 anos da vinda da família real. Ela teria sido responsável pelo "Brasil de hoje". Mas, ao ponderar sobre se isso é bom ou ruim, Carvalho prefere evocar Guimarães Rosa: "pãos ou pães, questão de opiniães". Leia abaixo trechos da entrevista que o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro concedeu à Folha, por e-mail.
Autor de uma biografia do imperador dom Pedro 2º ("Dom Pedro 2º -Ser ou Não Ser", Cia. das Letras) que passou meses nas listas de livros mais vendidos, o historiador mineiro José Murilo de Carvalho acredita que a unidade territorial é uma das questões mais importantes a serem debatidas na efeméride dos 200 anos da vinda da família real. Ela teria sido responsável pelo "Brasil de hoje". Mas, ao ponderar sobre se isso é bom ou ruim, Carvalho prefere evocar Guimarães Rosa: "pãos ou pães, questão de opiniães". Leia abaixo trechos da entrevista que o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro concedeu à Folha, por e-mail.
FOLHA - As celebrações dos 200 anos da vinda da família real estão começando a tomar espaço na mídia e na academia. Que aspectos o sr. acredita serem mais importante levantar para a discussão sobre esse episódio hoje?
JOSÉ MURILO DE CARVALHO - Há dois momentos distintos igualmente importantes. O primeiro, a vinda da corte em si. O segundo, as conseqüências dessa vinda. Em nenhum dos dois casos houve determinismos históricos. O príncipe dom João podia ter decidido ficar em Portugal. Nesse caso, o Brasil com certeza não existiria. A colônia se fragmentaria, como se fragmentou a parte espanhola da América. Teríamos, em vez do Brasil de hoje, cinco ou seis países distintos. Uma vez decidida a vinda, as coisas também poderiam ter tomado caminhos distintos, inclusive a fragmentação. Discutir essas alternativas e os fatores que conduziram os acontecimentos para a direção que tomaram me parece ser um tema relevante.
FOLHA - Quais incorreções nas interpretações sobre essa passagem da história deveriam ser revistas?
CARVALHO - Há excessiva, quase exclusiva, ênfase na decisão de dom João 6º de fugir da Europa. Ora, o grau de liberdade que tinha era mínimo. Toda sua ação foi pautada pelo conflito europeu, pela rivalidade entre a França napoleônica e o Reino Unido. Suas únicas opções, grandes opções sem dúvida, eram fugir ou não fugir. Sem a França, ele não teria pensado em sair. Sem o Reino Unido, ele não teria conseguido sair. O estudo desse condicionamento está quase totalmente abandonado. É positiva a recuperação das imagens de dom João 6º e de Carlota Joaquina e seu resgate em relação às abordagens caricatas do tipo exibido no filme de Carla Camurati ("Carlota Joaquina - Princesa do Brazil", 1995). A respeito desta, o trabalho foi feito pela historiadora Francisca de Azevedo [autora de "Carlota Joaquina na Corte do Brasil" (Civilização Brasileira) e organizadora da correspondência da princesa, recém-lançada pela Casa da Palavra].
FOLHA - Do ponto de vista da academia, o sr. acredita que a efeméride trará um elemento novo ao debate, que possa contemporizar vertentes historiográficas diferentes? A saber: os historiadores mais ligados ao marxismo, que acreditam que o processo de ruptura do Antigo Regime levaria o Brasil à Independência, inevitavelmente, e, por outro lado, os historiadores que privilegiam a dinâmica interna na constituição do Brasil livre. Há conciliação possível?
CARVALHO - Creio que o debate a que você se refere tem a ver com ênfases distintas em diferentes determinações do processo e da natureza da Independência: fatores externos ou internos, econômicos ou políticos. As diferenças continuarão. Quanto a mim, não concebo história sem ação humana e não concebo ação humana sem contexto histórico. Daí não acreditar em determinismos nem em aleatoriedade. Sobre a Independência, o importante é discutir como ela se deu. A grande diferença em relação à América espanhola foi a manutenção da unidade da colônia portuguesa e a monarquia. Daí veio o Brasil de hoje. Se para o bem ou para o mal, é [o escritor] Guimarães Rosa quem decide: "Pãos ou pães, questão de opiniães".
FOLHA - Seu livro sobre dom Pedro 2º é um best-seller. A que o sr. atribui esse sucesso? O que tem atraído tanto a atenção dos leitores?
CARVALHO - Creio que a boa recepção do livro tem a ver com o momento histórico.Depois do mensalão e de outras bandalheiras políticas, da conseqüente desmoralização dos poderes constitucionais, sobretudo do Congresso, da predominância na vida pública do interesse privado e da ausência de virtude republicana os cidadãos estavam em busca de exemplos de governantes com espírito público.
"Isso é armação de carioca", diz Cabral de Mello
 Essa história de comemoração da vinda da corte ao Brasil é armação de carioca para promover o Rio de Janeiro." Destoando do alvoroço em que se encontram historiadores, prefeitura do Rio, monarquistas e festeiros de plantão, o pernambucano Evaldo Cabral de Mello diz que não existem comemorações históricas autênticas e que a efeméride dos 200 anos pode servir para reforçar interpretações equivocadas sobre o período joanino e a Independência. Leia, abaixo, trechos da entrevista que o autor de "A Fronda dos Mazombos" (ed. 34) e "Rubro Veio" (ed. Topbooks) concedeu à Folha, por telefone.
Essa história de comemoração da vinda da corte ao Brasil é armação de carioca para promover o Rio de Janeiro." Destoando do alvoroço em que se encontram historiadores, prefeitura do Rio, monarquistas e festeiros de plantão, o pernambucano Evaldo Cabral de Mello diz que não existem comemorações históricas autênticas e que a efeméride dos 200 anos pode servir para reforçar interpretações equivocadas sobre o período joanino e a Independência. Leia, abaixo, trechos da entrevista que o autor de "A Fronda dos Mazombos" (ed. 34) e "Rubro Veio" (ed. Topbooks) concedeu à Folha, por telefone.
FOLHA - O que o sr. está achando da comemoração dos 200 anos da vinda da corte ao Brasil?
EVALDO CABRAL DE MELLO - Não gosto de celebrações de efemérides em geral. Não acredito em comemorações históricas que sejam autênticas. Não quis me envolver nas comemorações dos 500 anos do Descobrimento, por exemplo. Essa coisa de fazer festa em torno de dom João 6º é armação de carioca para promover o Rio.
FOLHA - Que problemas o sr. vê no modo como esse debate está vindo à tona?
MELLO - Há no Brasil uma insistência em reforçar o lugar-comum segundo o qual foi dom João 6º o responsável pela unidade do país. É até difícil reagir contra a historiografia que celebra a manutenção dessa integridade como resultado da vinda da família real. Isso não é verdade. A unidade do Brasil foi construída ao longo do tempo e é, antes de tudo, uma fabricação da coroa, mas não com o objetivo de que se criasse a partir dela um país independente.Ela está relacionada à situação de Portugal no contexto europeu daquela época. Os poderosos eram a França e a Inglaterra e era preciso pensar estratégias para garantir o futuro do país naquele panorama.A idéia de que era preciso fortalecer um império com os territórios de Portugal e Brasil começou no século 18, com dom Luís da Cunha [1662-1740, influente diplomata português que viveu em Londres, Madri e Paris], e foi desenvolvida depois com o Conde de Linhares, dom Rodrigo de Sousa Coutinho (1755-1812). Além disso, é um absurdo que hoje se celebre a unidade antes de tudo -quando se pensa nesse momento da nossa história-, em vez de discutir que tipo de instituições republicanas e constitucionais estavam surgindo. Parece que herdamos o complexo de pequenez de Portugal para valorizar tanto essa questão.
FOLHA - O Brasil não melhorou depois da vinda da família real?
MELLO - A corte portuguesa que aqui chegou era uma corte parasita, que explorava as Províncias para manter a mesma estrutura que tinha na Europa. Nem sequer houve um esforço de adaptar a máquina administrativa a uma nova situação, a uma extensão territorial tão grande. Estando aqui, dom João 6º foi levando as coisas com a barriga. Só um raciocínio tortuoso pode relacionar suas atitudes diretamente com a questão da unidade. Quando os historiadores pensam assim, não estão distinguindo os resultados das ações de dom João 6º das conseqüências inesperadas que elas provocaram. Em geral, aqueles que se dedicam a esse tema não deixam claro o que era intencional e o que não era, por parte do rei. Também ninguém dá importância ao fato de que dom João 6º esvaziou nosso erário antes de partir. Todos lembram que ele fundou o Banco do Brasil, mas nunca que deixou o Brasil falido quando foi embora daqui. A verdade é que nós herdamos desse período o pior, uma monarquia unitária que todo o país teve de sustentar. A própria urbanização do Rio se deu às custas das Províncias. Deve-se lembrar que, nos primeiros tempos, a corte desalojou os moradores da cidade para que os nobres tivessem onde viver. No período joanino, o Rio virou uma cidade portuguesa, um corpo estranho dentro do Brasil. E as outras regiões é que pagaram a conta. Foi só depois de muito tempo que o Rio foi se tornar uma cidade brasileira.
FOLHA - E quanto à relação entre a vinda da família e a Independência?
MELLO - Nunca se reconheceu que a Independência foi uma manobra contra-revolucionária encabeçada por dom Pedro 1º, cuja intenção era imunizar o Brasil do contágio da onda liberal que estava tomando Portugal [com a revolta constitucionalista do Porto, em 1820]. Originalmente, os problemas no Rio se deram entre portugueses liberais e absolutistas. Estes queriam impedir que aqui se passasse o mesmo que estava sucedendo em Portugal. Depois é que os brasileiros se integraram ao processo. É muito pertinente a idéia de "interiorização da metrópole", formulada por Maria Odila Leite da Silva Dias ["A Interiorização da Metrópole e Outros Estudos", ed. Alameda].
FOLHA - Vê um viés conservador no resgate que está sendo feito dos personagens da monarquia?
MELLO - Sim, isso existe. E os personagens são todos lamentáveis, de uma mediocridade impressionante. E agora ficam com essa história de que dom João 6º se apaixonou pelo Brasil, pelo Rio, por São Cristóvão... É tudo de um sentimentalismo muito besta e apelativo.
Para Maxwell, país não permite leituras "convencionais"
Marcos Strecker
 Foi um dos momentos fundadores mais decisivos na formação do Brasil", diz o brasilianista Kenneth Maxwell, diretor do Programa de Estudos Brasileiros na Universidade Harvard (EUA), sobre a chegada da família real, há 200 anos. Para o historiador britânico, esse acontecimento foi essencial para o desenvolvimento do Brasil no século 19 e para diferenciar a história brasileira em relação à América espanhola. Para ele, o movimento de independência da década de 1820 "não aconteceu no Brasil, mas em Portugal". Para o autor de "A Devassa da Devassa" (Paz e Terra), que está em São Paulo a convite da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, o interesse atual pelas grandes figuras históricas não é um fenômeno brasileiro. Também nos EUA, segundo ele, a historiografia biográfica está em alta.
Foi um dos momentos fundadores mais decisivos na formação do Brasil", diz o brasilianista Kenneth Maxwell, diretor do Programa de Estudos Brasileiros na Universidade Harvard (EUA), sobre a chegada da família real, há 200 anos. Para o historiador britânico, esse acontecimento foi essencial para o desenvolvimento do Brasil no século 19 e para diferenciar a história brasileira em relação à América espanhola. Para ele, o movimento de independência da década de 1820 "não aconteceu no Brasil, mas em Portugal". Para o autor de "A Devassa da Devassa" (Paz e Terra), que está em São Paulo a convite da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, o interesse atual pelas grandes figuras históricas não é um fenômeno brasileiro. Também nos EUA, segundo ele, a historiografia biográfica está em alta.
FOLHA - A chegada da família real em 1808 foi um momento fundador para o país?
KENNETH MAXWELL - Sim. Na minha opinião, foi um dos momentos fundadores mais decisivos na formação do Brasil. Principalmente porque, com a chegada de uma corte européia na América, algo que não aconteceu em nenhum outro lugar, houve uma transferência de legitimidade para um governo localizado numa colônia na América, transformado-o assim, imediatamente, no centro de um império global, como de fato o Brasil era depois de 1808.
FOLHA - Quais são os principais pontos positivos e negativos da transferência da corte?
MAXWELL - O ponto mais positivo foi que o Brasil não enfrentou uma alienação entre a monarquia e o povo, no sentido de que houve um período de afastamento total entre a monarquia espanhola e a América espanhola, depois das invasões napoleônicas. A América espanhola ficou sem ligação com a metrópole no sentido de governança, foi necessário inventar novas formas de representação. Em muitas partes isso provocou grandes problemas de legitimidade e guerras internas sangrentas por mais de 20 anos, com grande destruição de infra-estrutura, de instituições e de riquezas. No Brasil, em contraste, houve uma continuidade. As instituições novas foram criadas pela própria coroa portuguesa, e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, que assim assumiu um papel centralizador dentro de uma América portuguesa que antes era muito fragmentada no sentido administrativo. Houve resistência a isso, claro, principalmente no Nordeste (Pernambuco, por exemplo). Mas, no fim, o poder central foi mantido. Por outro lado, essa institucionalização no Brasil de um regime monárquico, arcaico, europeu, teve conseqüências negativas para o desenvolvimento do país, ao trazer da Europa uma aristocracia e burocracia parasíticas, corruptas e ineficientes, além de ambições dinásticas e expansionistas. De fato, acho que uma das causas do fracasso da idéia de um império luso-brasileiro baseado no Brasil foi a pretensão imperialista na América do Sul do regime no Rio de Janeiro, que provocou guerras no sul -principalmente na região onde o Uruguai está agora estabelecido- e também tentativas de expansão ao norte, na Guiana, contra os franceses. No norte, isso foi devido a pressões britânicas, em conseqüência do conflito com Napoleão na Europa. No sul foi por conseqüência de ambições de Carlota Joaquina para restabelecer a presença espanhola no rio da Prata, com ela como chefe. Isso trouxe grandes danos financeiros para o regime de dom João 6º.
FOLHA - O que explica a atenção que temas ligados à família real estão despertando? Livros como "1808" (ed. Planeta), do jornalista Laurentino Gomes, e a biografia "Dom Pedro 2º" (Cia. das Letras), do historiador José Murilo de Carvalho, viraram fenômenos editoriais...
MAXWELL - São bons livros, bem escritos, e um reflexo do interesse recente do público brasileiro por sua própria história. Mas também fazem parte de um fenômeno global, em que há um novo florescimento de uma historiografia biográfica. Por exemplo, nos EUA há neste momento um enorme interesse em biografias dos fundadores da República americana. Muitos são best-sellers. A problemática do monarquismo e a maneira com o reinado de dom Pedro 2º funcionou na prática são os assuntos principais dos muitos trabalhos de José Murilo de Carvalho e de Lilia Moritz Schwarcz. A contraparte disso, também importantíssima, está focalizada na importância dos regionalismos brasileiros, com contribuições fundamentais de Evaldo Cabral de Mello.
FOLHA - Estamos vivendo um momento de novas interpretações em relação ao período imperial?
MAXWELL - A minha visão é um pouco mais globalizada, com foco limitado no período de 1808 até 1820. A razão é que o Brasil tentou na época ser o centro do império luso-brasileiro e devemos definir um pouco melhor como esse império foi construído e as causas de sua derrota.Por exemplo, na minha opinião, o movimento de independência da década de 1820 não aconteceu no Brasil, mas em Portugal. Foram os portugueses que não quiseram ser dominados por uma monarquia baseada na América.Com a rejeição da dominação brasileira, eles atraíram muitos dos problemas de fragmentação, guerras civis e descontinuidade que são parecidos com aqueles que estavam acontecendo na América espanhola.É sempre importante, ao pensar a história do Brasil, considerar que ela não se encaixa em interpretações convencionais. É sempre necessário pensar um pouco de forma contrafactual, porque a história brasileira não segue a mesma trajetória de outras histórias das Américas. O rei estava aqui, a revolução liberal estava lá. A continuidade estava aqui, a descontinuidade estava lá.Acho que isto explica muito das coisas que aconteceram depois no Brasil, no século 19.
[Folha de São Paulo, 25/11/2007]
"O Brasil não existiria", afirma Carvalho
Syvia Colombo
 Autor de uma biografia do imperador dom Pedro 2º ("Dom Pedro 2º -Ser ou Não Ser", Cia. das Letras) que passou meses nas listas de livros mais vendidos, o historiador mineiro José Murilo de Carvalho acredita que a unidade territorial é uma das questões mais importantes a serem debatidas na efeméride dos 200 anos da vinda da família real. Ela teria sido responsável pelo "Brasil de hoje". Mas, ao ponderar sobre se isso é bom ou ruim, Carvalho prefere evocar Guimarães Rosa: "pãos ou pães, questão de opiniães". Leia abaixo trechos da entrevista que o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro concedeu à Folha, por e-mail.
Autor de uma biografia do imperador dom Pedro 2º ("Dom Pedro 2º -Ser ou Não Ser", Cia. das Letras) que passou meses nas listas de livros mais vendidos, o historiador mineiro José Murilo de Carvalho acredita que a unidade territorial é uma das questões mais importantes a serem debatidas na efeméride dos 200 anos da vinda da família real. Ela teria sido responsável pelo "Brasil de hoje". Mas, ao ponderar sobre se isso é bom ou ruim, Carvalho prefere evocar Guimarães Rosa: "pãos ou pães, questão de opiniães". Leia abaixo trechos da entrevista que o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro concedeu à Folha, por e-mail.FOLHA - As celebrações dos 200 anos da vinda da família real estão começando a tomar espaço na mídia e na academia. Que aspectos o sr. acredita serem mais importante levantar para a discussão sobre esse episódio hoje?
JOSÉ MURILO DE CARVALHO - Há dois momentos distintos igualmente importantes. O primeiro, a vinda da corte em si. O segundo, as conseqüências dessa vinda. Em nenhum dos dois casos houve determinismos históricos. O príncipe dom João podia ter decidido ficar em Portugal. Nesse caso, o Brasil com certeza não existiria. A colônia se fragmentaria, como se fragmentou a parte espanhola da América. Teríamos, em vez do Brasil de hoje, cinco ou seis países distintos. Uma vez decidida a vinda, as coisas também poderiam ter tomado caminhos distintos, inclusive a fragmentação. Discutir essas alternativas e os fatores que conduziram os acontecimentos para a direção que tomaram me parece ser um tema relevante.
FOLHA - Quais incorreções nas interpretações sobre essa passagem da história deveriam ser revistas?
CARVALHO - Há excessiva, quase exclusiva, ênfase na decisão de dom João 6º de fugir da Europa. Ora, o grau de liberdade que tinha era mínimo. Toda sua ação foi pautada pelo conflito europeu, pela rivalidade entre a França napoleônica e o Reino Unido. Suas únicas opções, grandes opções sem dúvida, eram fugir ou não fugir. Sem a França, ele não teria pensado em sair. Sem o Reino Unido, ele não teria conseguido sair. O estudo desse condicionamento está quase totalmente abandonado. É positiva a recuperação das imagens de dom João 6º e de Carlota Joaquina e seu resgate em relação às abordagens caricatas do tipo exibido no filme de Carla Camurati ("Carlota Joaquina - Princesa do Brazil", 1995). A respeito desta, o trabalho foi feito pela historiadora Francisca de Azevedo [autora de "Carlota Joaquina na Corte do Brasil" (Civilização Brasileira) e organizadora da correspondência da princesa, recém-lançada pela Casa da Palavra].
FOLHA - Do ponto de vista da academia, o sr. acredita que a efeméride trará um elemento novo ao debate, que possa contemporizar vertentes historiográficas diferentes? A saber: os historiadores mais ligados ao marxismo, que acreditam que o processo de ruptura do Antigo Regime levaria o Brasil à Independência, inevitavelmente, e, por outro lado, os historiadores que privilegiam a dinâmica interna na constituição do Brasil livre. Há conciliação possível?
CARVALHO - Creio que o debate a que você se refere tem a ver com ênfases distintas em diferentes determinações do processo e da natureza da Independência: fatores externos ou internos, econômicos ou políticos. As diferenças continuarão. Quanto a mim, não concebo história sem ação humana e não concebo ação humana sem contexto histórico. Daí não acreditar em determinismos nem em aleatoriedade. Sobre a Independência, o importante é discutir como ela se deu. A grande diferença em relação à América espanhola foi a manutenção da unidade da colônia portuguesa e a monarquia. Daí veio o Brasil de hoje. Se para o bem ou para o mal, é [o escritor] Guimarães Rosa quem decide: "Pãos ou pães, questão de opiniães".
FOLHA - Seu livro sobre dom Pedro 2º é um best-seller. A que o sr. atribui esse sucesso? O que tem atraído tanto a atenção dos leitores?
CARVALHO - Creio que a boa recepção do livro tem a ver com o momento histórico.Depois do mensalão e de outras bandalheiras políticas, da conseqüente desmoralização dos poderes constitucionais, sobretudo do Congresso, da predominância na vida pública do interesse privado e da ausência de virtude republicana os cidadãos estavam em busca de exemplos de governantes com espírito público.
"Isso é armação de carioca", diz Cabral de Mello
 Essa história de comemoração da vinda da corte ao Brasil é armação de carioca para promover o Rio de Janeiro." Destoando do alvoroço em que se encontram historiadores, prefeitura do Rio, monarquistas e festeiros de plantão, o pernambucano Evaldo Cabral de Mello diz que não existem comemorações históricas autênticas e que a efeméride dos 200 anos pode servir para reforçar interpretações equivocadas sobre o período joanino e a Independência. Leia, abaixo, trechos da entrevista que o autor de "A Fronda dos Mazombos" (ed. 34) e "Rubro Veio" (ed. Topbooks) concedeu à Folha, por telefone.
Essa história de comemoração da vinda da corte ao Brasil é armação de carioca para promover o Rio de Janeiro." Destoando do alvoroço em que se encontram historiadores, prefeitura do Rio, monarquistas e festeiros de plantão, o pernambucano Evaldo Cabral de Mello diz que não existem comemorações históricas autênticas e que a efeméride dos 200 anos pode servir para reforçar interpretações equivocadas sobre o período joanino e a Independência. Leia, abaixo, trechos da entrevista que o autor de "A Fronda dos Mazombos" (ed. 34) e "Rubro Veio" (ed. Topbooks) concedeu à Folha, por telefone.FOLHA - O que o sr. está achando da comemoração dos 200 anos da vinda da corte ao Brasil?
EVALDO CABRAL DE MELLO - Não gosto de celebrações de efemérides em geral. Não acredito em comemorações históricas que sejam autênticas. Não quis me envolver nas comemorações dos 500 anos do Descobrimento, por exemplo. Essa coisa de fazer festa em torno de dom João 6º é armação de carioca para promover o Rio.
FOLHA - Que problemas o sr. vê no modo como esse debate está vindo à tona?
MELLO - Há no Brasil uma insistência em reforçar o lugar-comum segundo o qual foi dom João 6º o responsável pela unidade do país. É até difícil reagir contra a historiografia que celebra a manutenção dessa integridade como resultado da vinda da família real. Isso não é verdade. A unidade do Brasil foi construída ao longo do tempo e é, antes de tudo, uma fabricação da coroa, mas não com o objetivo de que se criasse a partir dela um país independente.Ela está relacionada à situação de Portugal no contexto europeu daquela época. Os poderosos eram a França e a Inglaterra e era preciso pensar estratégias para garantir o futuro do país naquele panorama.A idéia de que era preciso fortalecer um império com os territórios de Portugal e Brasil começou no século 18, com dom Luís da Cunha [1662-1740, influente diplomata português que viveu em Londres, Madri e Paris], e foi desenvolvida depois com o Conde de Linhares, dom Rodrigo de Sousa Coutinho (1755-1812). Além disso, é um absurdo que hoje se celebre a unidade antes de tudo -quando se pensa nesse momento da nossa história-, em vez de discutir que tipo de instituições republicanas e constitucionais estavam surgindo. Parece que herdamos o complexo de pequenez de Portugal para valorizar tanto essa questão.
FOLHA - O Brasil não melhorou depois da vinda da família real?
MELLO - A corte portuguesa que aqui chegou era uma corte parasita, que explorava as Províncias para manter a mesma estrutura que tinha na Europa. Nem sequer houve um esforço de adaptar a máquina administrativa a uma nova situação, a uma extensão territorial tão grande. Estando aqui, dom João 6º foi levando as coisas com a barriga. Só um raciocínio tortuoso pode relacionar suas atitudes diretamente com a questão da unidade. Quando os historiadores pensam assim, não estão distinguindo os resultados das ações de dom João 6º das conseqüências inesperadas que elas provocaram. Em geral, aqueles que se dedicam a esse tema não deixam claro o que era intencional e o que não era, por parte do rei. Também ninguém dá importância ao fato de que dom João 6º esvaziou nosso erário antes de partir. Todos lembram que ele fundou o Banco do Brasil, mas nunca que deixou o Brasil falido quando foi embora daqui. A verdade é que nós herdamos desse período o pior, uma monarquia unitária que todo o país teve de sustentar. A própria urbanização do Rio se deu às custas das Províncias. Deve-se lembrar que, nos primeiros tempos, a corte desalojou os moradores da cidade para que os nobres tivessem onde viver. No período joanino, o Rio virou uma cidade portuguesa, um corpo estranho dentro do Brasil. E as outras regiões é que pagaram a conta. Foi só depois de muito tempo que o Rio foi se tornar uma cidade brasileira.
FOLHA - E quanto à relação entre a vinda da família e a Independência?
MELLO - Nunca se reconheceu que a Independência foi uma manobra contra-revolucionária encabeçada por dom Pedro 1º, cuja intenção era imunizar o Brasil do contágio da onda liberal que estava tomando Portugal [com a revolta constitucionalista do Porto, em 1820]. Originalmente, os problemas no Rio se deram entre portugueses liberais e absolutistas. Estes queriam impedir que aqui se passasse o mesmo que estava sucedendo em Portugal. Depois é que os brasileiros se integraram ao processo. É muito pertinente a idéia de "interiorização da metrópole", formulada por Maria Odila Leite da Silva Dias ["A Interiorização da Metrópole e Outros Estudos", ed. Alameda].
FOLHA - Vê um viés conservador no resgate que está sendo feito dos personagens da monarquia?
MELLO - Sim, isso existe. E os personagens são todos lamentáveis, de uma mediocridade impressionante. E agora ficam com essa história de que dom João 6º se apaixonou pelo Brasil, pelo Rio, por São Cristóvão... É tudo de um sentimentalismo muito besta e apelativo.
Para Maxwell, país não permite leituras "convencionais"
Marcos Strecker
 Foi um dos momentos fundadores mais decisivos na formação do Brasil", diz o brasilianista Kenneth Maxwell, diretor do Programa de Estudos Brasileiros na Universidade Harvard (EUA), sobre a chegada da família real, há 200 anos. Para o historiador britânico, esse acontecimento foi essencial para o desenvolvimento do Brasil no século 19 e para diferenciar a história brasileira em relação à América espanhola. Para ele, o movimento de independência da década de 1820 "não aconteceu no Brasil, mas em Portugal". Para o autor de "A Devassa da Devassa" (Paz e Terra), que está em São Paulo a convite da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, o interesse atual pelas grandes figuras históricas não é um fenômeno brasileiro. Também nos EUA, segundo ele, a historiografia biográfica está em alta.
Foi um dos momentos fundadores mais decisivos na formação do Brasil", diz o brasilianista Kenneth Maxwell, diretor do Programa de Estudos Brasileiros na Universidade Harvard (EUA), sobre a chegada da família real, há 200 anos. Para o historiador britânico, esse acontecimento foi essencial para o desenvolvimento do Brasil no século 19 e para diferenciar a história brasileira em relação à América espanhola. Para ele, o movimento de independência da década de 1820 "não aconteceu no Brasil, mas em Portugal". Para o autor de "A Devassa da Devassa" (Paz e Terra), que está em São Paulo a convite da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, o interesse atual pelas grandes figuras históricas não é um fenômeno brasileiro. Também nos EUA, segundo ele, a historiografia biográfica está em alta. FOLHA - A chegada da família real em 1808 foi um momento fundador para o país?
KENNETH MAXWELL - Sim. Na minha opinião, foi um dos momentos fundadores mais decisivos na formação do Brasil. Principalmente porque, com a chegada de uma corte européia na América, algo que não aconteceu em nenhum outro lugar, houve uma transferência de legitimidade para um governo localizado numa colônia na América, transformado-o assim, imediatamente, no centro de um império global, como de fato o Brasil era depois de 1808.
FOLHA - Quais são os principais pontos positivos e negativos da transferência da corte?
MAXWELL - O ponto mais positivo foi que o Brasil não enfrentou uma alienação entre a monarquia e o povo, no sentido de que houve um período de afastamento total entre a monarquia espanhola e a América espanhola, depois das invasões napoleônicas. A América espanhola ficou sem ligação com a metrópole no sentido de governança, foi necessário inventar novas formas de representação. Em muitas partes isso provocou grandes problemas de legitimidade e guerras internas sangrentas por mais de 20 anos, com grande destruição de infra-estrutura, de instituições e de riquezas. No Brasil, em contraste, houve uma continuidade. As instituições novas foram criadas pela própria coroa portuguesa, e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, que assim assumiu um papel centralizador dentro de uma América portuguesa que antes era muito fragmentada no sentido administrativo. Houve resistência a isso, claro, principalmente no Nordeste (Pernambuco, por exemplo). Mas, no fim, o poder central foi mantido. Por outro lado, essa institucionalização no Brasil de um regime monárquico, arcaico, europeu, teve conseqüências negativas para o desenvolvimento do país, ao trazer da Europa uma aristocracia e burocracia parasíticas, corruptas e ineficientes, além de ambições dinásticas e expansionistas. De fato, acho que uma das causas do fracasso da idéia de um império luso-brasileiro baseado no Brasil foi a pretensão imperialista na América do Sul do regime no Rio de Janeiro, que provocou guerras no sul -principalmente na região onde o Uruguai está agora estabelecido- e também tentativas de expansão ao norte, na Guiana, contra os franceses. No norte, isso foi devido a pressões britânicas, em conseqüência do conflito com Napoleão na Europa. No sul foi por conseqüência de ambições de Carlota Joaquina para restabelecer a presença espanhola no rio da Prata, com ela como chefe. Isso trouxe grandes danos financeiros para o regime de dom João 6º.
FOLHA - O que explica a atenção que temas ligados à família real estão despertando? Livros como "1808" (ed. Planeta), do jornalista Laurentino Gomes, e a biografia "Dom Pedro 2º" (Cia. das Letras), do historiador José Murilo de Carvalho, viraram fenômenos editoriais...
MAXWELL - São bons livros, bem escritos, e um reflexo do interesse recente do público brasileiro por sua própria história. Mas também fazem parte de um fenômeno global, em que há um novo florescimento de uma historiografia biográfica. Por exemplo, nos EUA há neste momento um enorme interesse em biografias dos fundadores da República americana. Muitos são best-sellers. A problemática do monarquismo e a maneira com o reinado de dom Pedro 2º funcionou na prática são os assuntos principais dos muitos trabalhos de José Murilo de Carvalho e de Lilia Moritz Schwarcz. A contraparte disso, também importantíssima, está focalizada na importância dos regionalismos brasileiros, com contribuições fundamentais de Evaldo Cabral de Mello.
FOLHA - Estamos vivendo um momento de novas interpretações em relação ao período imperial?
MAXWELL - A minha visão é um pouco mais globalizada, com foco limitado no período de 1808 até 1820. A razão é que o Brasil tentou na época ser o centro do império luso-brasileiro e devemos definir um pouco melhor como esse império foi construído e as causas de sua derrota.Por exemplo, na minha opinião, o movimento de independência da década de 1820 não aconteceu no Brasil, mas em Portugal. Foram os portugueses que não quiseram ser dominados por uma monarquia baseada na América.Com a rejeição da dominação brasileira, eles atraíram muitos dos problemas de fragmentação, guerras civis e descontinuidade que são parecidos com aqueles que estavam acontecendo na América espanhola.É sempre importante, ao pensar a história do Brasil, considerar que ela não se encaixa em interpretações convencionais. É sempre necessário pensar um pouco de forma contrafactual, porque a história brasileira não segue a mesma trajetória de outras histórias das Américas. O rei estava aqui, a revolução liberal estava lá. A continuidade estava aqui, a descontinuidade estava lá.Acho que isto explica muito das coisas que aconteceram depois no Brasil, no século 19.
[Folha de São Paulo, 25/11/2007]



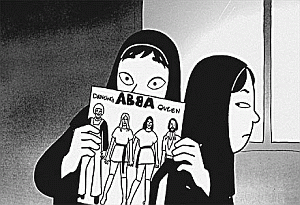





 Adicione nosso blog a seus favoritos: Pressione Crtl+D.
Adicione nosso blog a seus favoritos: Pressione Crtl+D.

